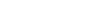O catálogo do Grito no Nordeste é formado por 173 edições, datadas de 1967 a 2008, todas digitalizadas com acesso aberto ao público. Nas páginas do jornal foram publicadas poesias, fotografias, relatos, desenhos, cartas, e textos que tratam de diversas temáticas sobre a estrutura agrária do nordeste, o peso do latifúndio, as várias formas de violência contra os camponeses e trabalhadores rurais, a terra como direito natural e bem comum, a defesa da reforma agrária, a condição das mulheres no meio rural, movimento sindical, participação no processo constituinte, eleições, partidos políticos, desigualdades econômicas e sociais. O Grito no Nordeste é uma fonte inestimável.

O Fundo Petrolândia registra parte importante do processo de luta dos trabalhadores do vale do submedio São Francisco, afetados pela construção da barragem de Itaparica. A barragem da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga foi um grande projeto implantado durante a ditadura, sob a responsabilidade da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf). Essa mega obra inundou cidades inteiras e afetou a vida de pequenos agricultores, posseiros e povos indígenas como os Pankararu, Pankararé e Tuxá. As intensas lutas envolveram também os operários da construção civil. O lema do movimento dos trabalhadores rurais era “terra por terra na margem do lago”, exigindo reparação pelas terras e benfeitorias.
Este catálogo é composto por 572 documentos organizados temporalmente, em um período que vai da década de 1970 até a década de 1990, registrados atas de reuniões, relatórios, ofícios, boletins, informativos, cartas endereçadas a autoridades da república, moções de solidariedade, dentre outros documentos que detalharam a atividade sindical, dos trabalhadores contra a Companhia Hidroelétrica.

O Catálogo do Fundo POLOP constitui um esforço de preservação da memória das lutas contra a exploração e a opressão no Brasil. A publicação apresenta o Fundo POLOP - Política Operária. Além do inventário de todos os documentos, integralmente digitalizados e disponíveis ao público, há uma apresentação que traz um breve histórico da organização e outras fontes documentais disponíveis.
A existência da POLOP se deu, sob diferentes denominações, de 1961 a 1986. Sua história nos ajuda a entender mais os debates sobre a formação social brasileira, a batalha pela conquista da independência de classe por parte do proletariado, as vias de combate à ditadura de 1964-1985, a relação entre tática e estratégica, os desafios postos na conjuntura da reabertura democrática e constituinte, a crítica ao reformismo e muitos outros temas.
Catálogo Fundo Política Operária

Apresentação
Christine Rufino Dabat
Maria do Socorro de Abreu e Lima
Este livro é composto por artigos cujo conteúdo foi desenvolvido nas palestras proferidas no Encontro O mundo dos Trabalhadores e seus Arquivos - Nordeste, que ocorreu em agosto de 2012 na UFPE. Apesar de ter como centro das reflexões e análises a região nordestina, o evento do qual resultou esta publicação contou com a participação de pesquisadores de outras regiões do País
Esta atividade de extensão, organizada pelo Núcleo de Documentação sobre os Movimentos Sociais/UFPE em conjunto com o Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano APEJE, o Centro de Documentação da Central Única dos Trabalhadores - CUT e o Grupo de Estudos Trabalho e Ambiente na História das Sociedades Açucareiras - CFCH, teve como objetivo reunir pesquisadores, sindicalistas, estudantes e pessoas envolvidas no tema para conseguir seu conhecimento, relatar experiências e promover debates a respeito buscando aproximar Ensino, Pesquisa e Extensão, Universidade e Sociedade.
A importância de se conhecer e ter acesso a arquivos de trabalhadores é pertinente na medida em que o tema Mun-dos do Trabalho/Trabalhadores tem crescido ultimamente, assim como uma visão mais ampla do que poderia se constituir como documentos adequados para tratar do assunto. Neste sentido, é válido ressaltar não apenas a possibilidade do uso de arquivos próximos para deles se extrair informações a respeito dos trabalhadores, como é o caso da documentação contida no acervo do DOPS ou de jornais de ampla circulação geralmente disponíveis nos arquivos públicos de diferentes estados, mas de acervos dos próprios trabalhadores, que muitas vezes se perdem por falta de sensibilidade a respeito de sua importância ou da possibilidade de organização dos mesmos pelas entidades sindicais e/ou movimentos sociais
Assim sendo, é papel da Universidade consegui seu compromisso no que diz respeito à preservação e divulgação de documentos de trabalhadores, a exemplo do que vem sendo feito por iniciativa de pesquisadores que têm salvo, organizado e disponibilizado acervos como o da Justiça do Trabalho, em períodos mais recentes.
Os debates e as trocas de experiência que aconteceram no Encontro, que incluíram acadêmicos, representantes de movimentos sociais e entidades sindicais, assim como dirigentes e funcionários de Arquivos, além de estudantes, foi bastante enriquecedor, e muitos desafios foram colocados no sentido de promover uma maior integração da Universidade com os movimentos sociais.
Apesar de não contar com o conjunto das palestras pró-feridas, a maioria delas se encontra reunida nesta publicação.
Sandra Veríssimo, representante do Arquivo Público de Pernambuco, desenvolveu importantes reflexões sobre a prática arquivística e a necessidade de se intensificar uma política de apoio à pesquisa e às instituições voltadas para a preservação de documentos. Também descrevi sobre a documentação existente no APEJE referente ao tema proposto.
Márcio de Souza Porto, diretor do Arquivo Público do Ceará, fez uma descrição detalhada de alguns documentos relativos às lutas e perseguições aos trabalhadores naquele estado, antes e depois do Golpe de 1964. Ressaltou a parceria levada por este Arquivo e o projeto Memórias Reveladas: as lutas políticas no Brasil (1964-1985), centradas "no fortalecimento de políticas públicas de valorização do patrimônio histórico documental brasileiro e de promoção do direito à memória e à verdade".
"Memória da resistência, memória viva" é o título do artigo desenvolvido por Ana Emília Borba, no qual ela, retomando algumas ideias de Benjamin, aborda a necessidade da preservação de documentos como algo fundamental para "construir e reconstruir a história dos povos", buscando, no caso do MST, ao qual ela é ligada, manter viva a memória dos lutadores do povo e seu legado.
Antonio José Marques, coordenador do Centro de Documentação e Memória Sindical da CUT, trata da política documental desenvolvida por esta Central, que busca organizar e disponibilizar conjuntos documentais produzidos por ela e outros relativos à memória operária, rural e sindical brasileira. Também trata de questões conceituais que dizem respeito aos arquivos, e procura situar a atuação da Entidade no sentido de sua contribuição para a sociedade em geral.
O professor Luiz Momesso procura trazer reflexões e propostas sobre a necessidade de uma ação conjunta entre Universidade e Movimentos Sociais no sentido de desenvolver a consciência sobre a importância da preservação, digitalização e disponibilização de documentos produzidos pelos trabalhadores, de interesse dos mesmos, de suas entidades e acessíveis para a pesquisa acadêmica.
O artigo da professora Silvia Petersen, denominado "Os acervos documentais, a produção acadêmica e a história social do trabalho no Rio Grande do Sul" nos traz não apenas questões relativas ao título se refere, mas também importantes reflexões de caráter teórico, válidas, portanto, para qualquer trabalho de caráter acadêmico
O professor Tiago Bernardon relata o processo de luta para salvar os arquivos do TRT da Paraíba, encontrado em péssimas condições de acondicionamento. Este tipo de arquivo, que também foi recuperado em outros estados do Brasil, inclusive Pernambuco, é fonte fundamental para o entendimento das relações de trabalho e das lutas por direitos levados pelos trabalhadores urbanos e rurais ao longo do século XX.
Ao tratar da Imprensa "Operária em Maceió (1898-1920)", o professor Osvaldo Maciel esclarece o que considera pertinente de ser abordado: a imprensa se comprometeu com os trabalhadores, que contribuíram com a construção de uma identidade coletiva ampliando sua consciência e possibilitando uma representatividade legítima dos mesmos. Com base em suas pesquisas dialógicas com autores clássicos, buscando contribuir para uma melhor configuração de seu objeto de estudo.
O texto do professor Cristiano Christillino, "Os trabalhadores livres na produção da erva-mate no Rio Grande do Sul oitocentista" apresenta um aspecto que muitos não levam na vida conta: a ideia de que, ao longo de todo o período es-cravista, outros setores produtivos existiram, formados por trabalhadores livres pobres, que passam a sofrer, a partir de meados do século XIX, forte repressão, que os levaram a se organizarem por direitos.
Já a professora Christine Rufino Dabat trata sobre o uso das fontes a respeito das resistências dos canavieiros à opressão do sistema de plantação em diferentes momentos, inclusive durante a ditadura militar. Além dos diversos tipos de materiais encontrados no DOPS, uma leitura atenta dos jornais do período pode se constituir em fontes com todas as informações. A fala dos trabalhadores, contudo, são elementos preciosos para esse tipo de tema
Agradecemos a todos que colaboraram para a realização do referido evento, em especial aos componentes das Mesas, aos coordenadores dos Simpósios Temáticos, assim como aos pesquisadores que apresentaram tantos trabalhos valiosos em andamento a respeito do Mundo dos Trabalhadores e seus Arquivos.
Um agradecimento especial aos estudantes que se dispuseram generosamente a garantir o andamento do evento:
Adriano Martins de Oliveira, Afonso Augusto de Aguiar Bezerra, Ana Karolina Pinto da Silva, Bruno Spinelli Gualberto, Camila Maria de Araújo Melo, Caroline Maria Barreto de Melo, Cláudio Ferreira, Davi Costa Aroucha, Eduardo José de Castro, Elza Mariana Rodrigues Furtado de Mendonça, Frederico Vitória da Silva Neto, Jefferson da Silva Bezerra, Jefferson Gonçalo do Carmo, Juliana Rocha da Silva, Júlio César Ferreira Alves, Kácia Guedes de Oliveira, Karla Hegeane Vieira de Lima, Marcela de Aquino Bezerra Silva, Matheus Pinheiro de Oliveira, Natália Maria dos Santos, Suzana Mateus, Yves Antônio Albuquerque da Silva atuaram como monitores. Allan Luna, Aurélio Britto, Mateus Samico, José Marcelo Marques Ferreira Marques, Júlio César Barros e Victor Hugo Luna Peres, alunos de pós-graduação, se dispuseram a ajudar na organização, divulgação, bem como editoração do Caderno de Resumo. Victor Hugo participou da preparação para a edição do presente volume. O empenho e os estudos destes discentes da UFPE foram imprescindíveis para o sucesso desta iniciativa
Este evento contou com importante apoio da Pró-Reitoria de Extensão e da direção do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE que abrigou o evento e ofereceu espaços suficientes para a condução de todas as atividades.
Ao Professor Denis Bernardes, in memoriam, coordenador do NUDOC desde sua fundação, que não pode apoiar o evento, mas deu valiosas sugestões para o seu bom andamento, nossa gratidão.
Sumário do Livro:
- O Estado e os Arquivos de Trabalhadores: O Arquivo Público do Ceará - Márcio de Souza Porto.
- O Arquivo Público do Estado de Pernambuco e a Memória dos Trabalhadores - Sandra Veríssimo.
- Centros de Documentação e Memória Sindical: A valorização dos arquivos, da documentação e da memória dos trabalhadores - Antonio José Marques.
- Memória da Resistência, Memória Viva: A preservação dos documentos e da história da classe trabalhadora - Ana Emília Borba.
- Os Arquivos de Trabalhadores e a Universidade - Luiz Anastácio Momesso.
- Os Acervos Documentais, a Produção Acadêmica e a História Social do Trabalho no Rio Grande do Sul - Silvia Regina Ferraz Petersen.
- A Estruturação de um Arquivo da Justiça do Trabalho no Brejo Paraibano na Perspectiva de uma História Global do Trabalho - Tiago Bernardon de Oliveira.
- Imprensa Operária em Maceió (1898-1920) - Osvaldo Maciel.
- Os trabalhadores livres na produção da erva-mate no Rio Grande do Sul oitocentista - Cristiano Luís Christillino.
- Este vento que tronos despedaça: Notas sobre fontes a respeito das resistências dos canavieiros à opressão ordinária do sistema de plantação e àquela, extraordinária, do golpe militar - Christine Rufino Dabat.

Contrarreformas na Educação e Lutas estudantis
Este livro é um dos frutos do projeto de extensão “Bora Ocupar”: contrarreformas na Educação e a resistência das ocupações de escolas. Materializa o objetivo de produzir conhecimento a partir da experiência da onda de ocupações de escolas em 2016. O movimento havia sido registrado nas duas edições anteriores do projeto de extensão, dando origem ao documentário “Bora Ocupar”: um documentário sobre as ocupações de escolas em Recife, lançado em novembro de 2018. Com o filme pronto, organizamos cine debates em várias escolas, universidades, cineclubes e outros espaços, sempre com a participação de ex-ocupantes junto à equipe.
Pensando na formação coletiva, realizamos dois minicursos abertos à comunidade, em 2018 e 2019, onde buscamos compreender as causas da revolta estudantil, a conjuntura política e econômica e as formas de organização da juventude. Nestes dois anos, debatemos o modelo da Educação integral que teve Pernambuco como um de seus laboratórios; a Reforma do Ensino Médio; o novo regime fiscal inaugurado pela Emenda Constitucional 95/2016 e outras contrarreformas que motivaram a revolta estudantil. Tivemos sessões sobre a crise econômica; e a caracterização do governo Bolsonaro, com o objetivo de compreender como seu tripé ultraliberal, militarista e obscurantista se manifesta no campo da educação. Abrimos espaço para a discussão sobre a ofensiva ideológica dos Projetos de Escola Sem Partido. Alguns capítulos deste livro são desdobramentos do minicurso.
O primeiro capítulo Caracterização dos governos pós-golpe de 2016 no Brasil e seus impactos na Educação expressa a sessão em que mostramos a conexão entre a crise econômica mundial, a nova onda na luta de classes e a direitização da política burguesa. Trazemos o debate teórico sobre democracia, bonapartismo e fascismo para melhor compreender e caracterizar a conjuntura aberta pelo golpe de 2016. Avançamos na exposição dos impactos deste processo na Educação e as tendências de luta que se desenvolvem.
O capítulo 2, intitulado Crise, contrarreformas e mercantilização da educação ao mesmo tempo em que expressa os debates do minicurso, foi originado de uma pesquisa coletiva a muitas mãos. Foi feito um mapeamento de notícias no site do jornal Valor Econômico e da Consultoria Hoper, de 2014 a 2019, a respeito das movimentações do capital, sobretudo financeiro, no ramo educacional. Identificamos como a Reforma do Ensino Médio abriu este nível de ensino para uma maior investida das corporações educacionais, já majoritárias no ensino superior, na Educação básica, inclusive com a expansão do ensino a distância.
Em nosso terceiro capítulo, Regina Alice Rodrigues Araújo Costa apresenta os Sentidos do Escola Sem Partido no atual cenário brasileiro, identificando as origens e redes que sustentam o Escola Sem Partido, sua dimensão política, jurídica, ideológica, assim como a resposta dos movimentos em defesa da educação pública. Regina foi uma das convidadas do minicurso, assim como Katharine Ninive Pinto Silva, autora do capítulo 4. Ensino Médio e Base Nacional Comum Curricular: o que há de “novo” no velho dualismo educacional brasileiro? Uma contribuição à compreensão das novas formulações educacionais do “novo” Ensino Médio e Base Nacional Comum Curricular quanto à concepção sobre a juventude, formação e educação integral.
Por conta de suas pesquisas sobre o movimento de ocupação de escolas em São Paulo, convidamos Osvaldo Souza para elaborar um capítulo. Sua contribuição com Juventude proletária: entre a classe e a categoria social procura suprir uma lacuna quanto à análise classista sobre a juventude. Para atingir seu objetivo, situa a juventude historicamente, busca antecedentes da presença de grupos etários na organização social, do comunismo primitivo ao capitalismo. Apresenta também as determinações da condição que a juventude oprimida e explorada enfrenta no Brasil dos dias de hoje.
Adentrando o tema da organização estudantil, integrantes do projeto redigiram o Capítulo 6. A política da direção da União Nacional de Estudantes e União Brasileira de Estudantes Secundaristas de 2014 a 2019. Partem da rejeição que predominou no movimento de ocupação de escolas às organizações nacionais dos estudantes e os partidos/correntes políticas que as dirigem. Para compreender o fenômeno, traçam um panorama da relação entre Estado e movimentos estudantis desde a criação da UNE, em 1937, com ênfase particular na burocratização e estatização sob os governos do Partido dos Trabalhadores. Busca nas resoluções das entidades as manifestações da política de conciliação de classes e adaptação à mercantilização e desnacionalização da educação.
No sétimo capítulo, “Bora Ocupar”: um balanço das ocupações de escola em Recife, apontamos as manifestações particulares da conjuntura política e econômica no Recife de 2016, a precariedade das escolas, a experiência com um ensino integral que aparta ainda mais teoria e prática, a repressão ideológica e policial e a reflexão sobre o método das ocupações. Por fim, Maria Katarina Bezerra Cruz da Silva, ex-ocupante da escola Cândido Duarte traz um relato de experiência em que reflete sobre o movimento, sua participação em todas etapas do projeto de extensão, produção do documentário, formações e cine debates.
Concluímos nosso livro, portanto, voltando a nosso ponto de partida, a experiência das ocupações de escolas de 2016. Porém, com um outro olhar sobre a realidade, enriquecido pelo debate teórico, pelo conhecimento de suas determinações econômicas, políticas, jurídicas, ideológicas, dentre outras. Em nome da equipe do projeto, posso dizer que foi uma construção coletiva, comprometida com a busca do conhecimento sobre a realidade, sabendo que este se constroi por meio de livros, documentos, mas principalmente expressando a criação viva dos movimentos que integram a luta de classes.
***
Apresentamos também ao olhar de nossos leitores a arte de Luana Andrade, estampada em nossa capa. Luana, em meio às ocupações, fez um cartaz de denúncia da Reforma do Ensino Médio que expressou tão bem o sentimento dos estudantes que passou a ser reproduzido nas escolas ocupadas. A partir disso, a localizamos, convidamos para fazer o cartaz do documentário e também do livro. Nesta proposta, a escada – objeto usado para dar acesso ao que está fora de alcance – foi colocada dentro de uma mochila – objeto tão presente no cotidiano escolar e das manifestações, que guarda elementos significativos para meninos e meninas e é o primeiro objeto a ser devassado pela polícia nos atos, em busca de qualquer flagrante. A inserção da escada na mochila revela, em sua desproporção, que as raízes e desdobramentos do movimento não cabem no próprio movimento. A urgência da luta estudantil leva ao improviso na tentativa de se conectar com a herança do movimento histórico dos trabalhadores, das lutas anteriores em defesa da Educação Pública e também para conseguir transpor esta atual configuração da educação e da sociedade. Por meio do olhar de Luana, lembramos também que as ocupações foram permeadas por manifestações estéticas em grafites, cartazes, danças, música, teatro, cinema e performances. Manifestações que mostram que a arte é uma das formas de a humanidade se relacionar com a realidade, exteriorizando suas particularidades. Apontam para a necessidade de expressão e o protesto contra uma educação e sociedade que mutilam tantas dimensões e potencialidades dos jovens, caso não seja passíveis de serem mercantilizadas.
Recife, julho de 2020.
APRESENTAÇÃO: Soraia de Carvalho
CAPÍTULO 1: CARACTERIZAÇÃO DOS GOVERNOS PÓS-GOLPE DE 2016 NO BRASIL E SEUS IMPACTOS NA EDUCAÇÃO: Soraia de Carvalho
CAPÍTULO 2: CRISE, CONTRARREFORMAS E MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - Amanda Belarmino Couto, Júlia Lucas Correia, Letícia Gabrielle Lima da Costa e Silva, Maria Luíza Almeida Barroso, Paulo Jackson Garcez Santos, Priscila Serafim de Andrade, Sabrina Duarte Correa, Soraia de Carvalho eThiago Henrique da Silva.
CAPÍTULO 3: SENTIDOS DO ESCOLA SEM PARTIDO NO ATUAL CENÁRIO BRASILEIRO - Regina Alice Rodrigues Araujo Costa.
CAPÍTULO 4: ENSINO MÉDIO E BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: o que há de “novo” no velho dualismo educacional brasileiro? - Katharine Ninive Pinto Silva.
CAPÍTULO 5: JUVENTUDE PROLETÁRIA: entre a classe e a categoria social - Osvaldo de Souza.
CAPÍTULO 6: A POLÍTICA DA DIREÇÃO DA UNIÃO NACIONAL DE ESTUDANTES E UNIÃO BRASILEIRA DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS DE 2014 A 2019 - Letícia Gabrielle Lima da Costa e Silva, Paulo Jackson Garcez Santos e Soraia de Carvalho.
CAPÍTULO 7: “BORA OCUPAR”: um balanço das ocupações de escola em Recife - Soraia de Carvalho
CAPÍTULO 8: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO DOCUMENTÁRIO “BORA OCUPAR” - Maria Katarina Bezerra Cruz da Silva
ÍNDICE REMISSIVO
SOBRE OS AUTORES E AUTORAS

Construindo o Sindicalismo Rural - Lutas, Partidos, Projetos
Prefácio
As lutas dos camponeses e suas organizações, ao mesmo tempo que preocupam os latifundiários e as classes dominantes, de forma geral, representam uma esperança para os que aspiram por mudanças. O latifúndio faz parte de nossa história e é um componente fundamental da desigualdade social. As lutas dos trabalhadores pelo direito ao uso da terra perpassam toda a trajetória do povo brasileiro. Inúmeras vezes marcadas pela violência. Em diferentes contextos, também gerou formas de organização que buscam responder às necessidades dessas lutas. Em Pernambuco, historicamente os movimentos camponeses chamaram a atenção. É um dos estados brasileiros onde as luta sociais no campo mais se destacaram, especialmente a partir das Ligas Camponesas, do sindicalismo rural e, agora, com a mobilização de trabalhadores sem terra.
A academia não está alheia a esta realidade. Ampliam-se as pesquisas relativas à situação do campo, em diferentes áreas do conhecimento. Inúmeros pesquisadores têm produzido trabalhos elucidativos sobre a situação dos camponeses, suas lutas, suas organizações, multiplicando-se a produção de publicações sobre a temática nas últimas décadas. O livro de Maria do Socorro de Abreu e Lima traz contribuições significativas para a elucidação, no campo da história, das lutas e organizações desses movimentos, proporcionando elementos para a compreensão do quadro que se coloca na atualidade.
A necessidade da realização da pesquisa que deu origem a este livro se evidenciou a partir de um estudo da história do movimento sindical rural de Pernambuco, realizado pela autora entre os anos de 1995 e 1996, destinado a dar fundamentação histórica a um projeto de pesquisa realizado na área de comunicação social. Com seu conhecimento acadêmico e com sua experiência de militante dos movimentos sociais, ela percebeu que nas pesquisas existentes não só havia lacunas como abordagens que davam margens a distorções, como o fato de as esquerdas quase não aparecerem nessa história no pós-64.
Com muito critério, persistência e método rigoroso, combinando a pesquisa de documentos escritos com memória oral, perseguindo cada fio da meada até quase a exaustão, reescreveu este período da história dos movimentos sociais no campo tornando presentes não só as grandes, mas também as pequenas lutas, levadas com tanta dificuldade principalmente após a tomada do poder pelos militares em 1964; resgatando a presença dos partidos de esquerda, constantemente ausentes em estudos sobre o campo nesse período; apresentando os diferentes projetos em disputa no meio dos trabalhadores rurais; evidenciando, através de farta documentação e exposição quase didática, o processo através do qual começa a emergir a presença das mulheres num espaço antes tido como rigorosamente masculino.
Apesar das contribuições significativas amplamente fundamentadas, outro destaque do livro é a clareza de exposição, que possibilita uma leitura agradável e bastante acessível. Torna-se, assim, leitura obrigatória para os estudiosos do tema, além de recomendada para todos os que, por qualquer motivo, buscam compreender as lutas, organizações e aspirações dos trabalhadores rurais. Nesta segunda edição revista e ampliada, a autora procurou acolher sugestões fornecendo maiores esclarecimentos sobre alguns episódios como também possibilitando, através dos anexos, que o leitor tenha um contato mais próximo com documentos que permitem verificar algumas afirmações assim como nos convida a vivenciar algo da atmosfera do período.
Luiz Momesso.
“Rádio, Movimentos Sociais e Direito à Comunicação – é uma busca incessante a complexa discussão sobre o papel da comunicação de massa e a inserção que esta tem no resgate dos problemáticos fenômenos que envolvem o homem e suas inquietações contemporâneas.
Além do fato de que os investimentos despendidos no desenvolvimento dos aparatos tecnológicos, cada vez mais modernos, traduzirem-se em um custo final que incorpora valor social tem-se, principalmente, que a evolução destes meios em prol da aceleração do desenvolvimento sócio-econômico os torna símbolo e ferramenta da transformação da estrutura social.
O conceito da mensagem se expande do conteúdo referente ao ambiente de troca da informação. Os mediadores técnicos da comunicação se transformam em signos porque implicam redefinições do significado do que é mediado. É exatamente o permitir a renovação do caráter da mensagem que os meios tecnológicos se incorporam a esta enquanto resgate do desenvolvimento dos valores humanos. Daí resulta a necessidade de compreender o momento que vivemos,ou seja o mundo conectado pela comunicação instantânea e assim nos conscientizarmos a não transigir com a nossa própria ética da responsabilidade.”
Por: Darcier Barros
"O termo “socialismo” tem sido historicamente associado às lutas e interesses políticos das classes trabalhadoras formadas a partir das contradições surgidas com a Revolução Industrial Inglesa. Transformações de grande impacto social no ordenamento jurídico econômico solidificaram a base da propriedade privada e dos meios de produção. Por outro lado, construíram elementos históricos que permitiram o desenvolvimento de uma consciência pública e a universalização do discernimento da necessidade de organizações de classes em defesa de seus interesses singulares. Com o fracasso do primeiro levante operário denominado “Revolução de 1848”, as discussões filosóficas que tentaram discernir o significado dos termos “socialismo” e “comunismo” diminuem de importância e o problema principal dos pensadores passou a ser pensar novas formas de organizações operárias autônomas. Em meados do século XIX, a grande discussão baseava-se na necessidade de explicar as diferenA§as entre o socialismo utópico e o socialismo científico.
Engels em sua obra “O Anti-Duhring” e Marx, no “Manifesto Comunista”, foram os primeiros filósofos, a apresentar explicações que diferenciariam o significado entre eles. A partir da 1a e especialmente com a 2a Internacional delineiam-se as diversas tendências de socialismos, formando assim caminhos diferentes na tentativa de se construir uma nova ordem política, coexistindo harmoniosamente, inclusive, até a Primeira Grande Guerra, e, com certa liderança, do grande pensador Karl Kautsky, filósofo da Social-Democracia. Com a revolução de 1917 nasce a União Soviética e com ela a esperança de uma nova ordem social mais justa, com novas lideranças de pensadores tais como V. I. Lênin, Rosa Luxemburg, Leon Trotsky, consolidando-se mais uma vez, novas tendências.
Cisões nos movimentos operários passam a ser o novo desafio uma vez que elas resgatam interpretações teóricas que se antagonizam em defesa de suas próprias ações. No caso organizações políticas diversas, com práticas diferenciadas, pretensamente assentadas no pensamento de um mesmo filósofo. [...]
Paralelamente a esta linha ortodoxa, numerosos grupos e movimentos propuseram uma mudança pelo menos tão radical por outros meios organizativos, enriquecendo o elenco das idéias e propostas anti-capitalistas. Embora o verso momentos de repressão contra as correntes anarquistas e libertárias, particularmente na fase estalinista, estratégias convergentes contribuíram em vários momentos para fortalecer movimentos operários e, mais amplamente , populares na sua luta por uma sociedade mais justa.
O desafio desta edição é colocar em questionamento, na nossa contemporaneidade, esses problemas e, mais uma vez, expor em evidência a importância de se distinguir o significado de socialismo utópico e socialismo científico. Compreensão esta que possivelmente nos levará a entender melhor as sucessivas crises atuais de hegemonia dos Estados Capitalistas."
Engels em sua obra “O Anti-Duhring” e Marx, no “Manifesto Comunista”, foram os primeiros filósofos, a apresentar explicações que diferenciariam o significado entre eles. A partir da 1a e especialmente com a 2a Internacional delineiam-se as diversas tendências de socialismos, formando assim caminhos diferentes na tentativa de se construir uma nova ordem política, coexistindo harmoniosamente, inclusive, até a Primeira Grande Guerra, e, com certa liderança, do grande pensador Karl Kautsky, filósofo da Social-Democracia. Com a revolução de 1917 nasce a União Soviética e com ela a esperança de uma nova ordem social mais justa, com novas lideranças de pensadores tais como V. I. Lênin, Rosa Luxemburg, Leon Trotsky, consolidando-se mais uma vez, novas tendências.
Cisões nos movimentos operários passam a ser o novo desafio uma vez que elas resgatam interpretações teóricas que se antagonizam em defesa de suas próprias ações. No caso organizações políticas diversas, com práticas diferenciadas, pretensamente assentadas no pensamento de um mesmo filósofo. [...]
Paralelamente a esta linha ortodoxa, numerosos grupos e movimentos propuseram uma mudança pelo menos tão radical por outros meios organizativos, enriquecendo o elenco das idéias e propostas anti-capitalistas. Embora o verso momentos de repressão contra as correntes anarquistas e libertárias, particularmente na fase estalinista, estratégias convergentes contribuíram em vários momentos para fortalecer movimentos operários e, mais amplamente , populares na sua luta por uma sociedade mais justa.
O desafio desta edição é colocar em questionamento, na nossa contemporaneidade, esses problemas e, mais uma vez, expor em evidência a importância de se distinguir o significado de socialismo utópico e socialismo científico. Compreensão esta que possivelmente nos levará a entender melhor as sucessivas crises atuais de hegemonia dos Estados Capitalistas."
O dossiê ''Conflitos na Zona Canavieira de Pernambuco'' destaca obras selecionadas que remetem aos conflitos por terra, como o que hoje ocorrem entre os posseiros e o agronegócio nas terras das Usinas da Mata Sul, com os conflitos trabalhistas.
Direitos e Relações Trabalhistas no Campo
Monografias, Dissertações e Teses
DABAT, Christine Paulette Yves Rufino. Moradores de Engenho: estudo sobre as relações de trabalho e condições de vida dos trabalhadores rurais da zona canavieira de Pernambuco, segundo a literatura, a academia e os próprios atores sociais. Doutorado em História, Universidade Federal de Pernambuco, 2003.
RAPOSO, Cristhiane Laysa Andrade Teixeira. Arquivos, representações e memória dos trabalhadores rurais: litígios trabalhistas na zona canavieira de Pernambuco. CLIO: Revista de Pesquisa Histórica, v. 35, n. 1, 2017.
RAPOSO, Cristhiane Laysa Andrade Teixeira. Fontes Judiciais, Direitos e História do Trabalho:
Movimentos Sociais de Trabalhadores na Zona Canavieira de Pernambuco 1962-1964. Revista Historiae, v.9, n.2, 2018.
PALMEIRA, Moacir. Desmobilização e Conflito: Relações entre Trabalhadores e Patrões na Agroindústria Pernambucana. In: Lutas camponesas contemporâneas: condições, dilemas e conquistas, v.1: o campesinato como sujeito político nas décadas de 1950 a 1980 / Bernardo Mançano Fernandes, Leonilde Servolo de Medeiros, Maria Ignez Paulilo (orgs.). – São Paulo: Editora UNESP; Brasília, DF: Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, 2009.
Movimentos Sindicais e Organizações dos Trabalhadores
AMARAL, A. E. P. do. (2011). Aspectos das relações de trabalho e do movimento sindical da Zona da Mata Sul de Pernambuco. Ciência & Trópico, 12(2), 1984.
BARBOSA, R. B. (2012). Emoções, Conflito e Organização dos Trabalhadores Rurais. Revista
Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, n. 10, 2012.
BORDALO, Caroline Araújo. Os caminhos da política: o sindicalismo rural e os movimentos de mulheres trabalhadoras rurais de Pernambuco. Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2011.
BORGES BARBOSA, Raoni (2012). Emoções, Conflito e Organização dos Trabalhadores Rurais. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. No10. Año 4. Diciembre 2012-marzo de 2013. Argentina. ISSN: 1852-8759. pp. 112-115.
DABAT, Christine Paulette Yves Rufino. "Depois que Arraes entrou, fomos forros outra vez!” Ligas
Camponesas e sindicatos de trabalhadores rurais: a luta de classes na zona canavieira de Pernambuco segundo os cortadores de cana. CLIO: Revista de Pesquisa Histórica, v. 22, n. 1, 2004.
LIMA, Maria do Socorro de Abreu e. Revisitando o campo: Lutas, organização, contradições -
Pernambuco -1962-1987. Doutorado em História, Universidade Federal de Pernambuco, 2003.
LIMA, Maria do Socorro de Abreu e. Sindicalismo rural em Pernambuco nos anos 60: Lutas e repressão. CLIO: Revista de Pesquisa Histórica, v. 22, n. 1, 2004.
LIMA, Maria do Socorro de Abreu e. Trabalhadores e Comunicação: A Zona da Mata em Pernambuco. CLIO: Revista de Pesquisa Histórica, v. 26, n. 2, 2008.
MELO, Camila Maria de Araújo. Entre dois senhores, o patrão e a fome : as greves dos trabalhadores rurais no município do Cabo de Santo Agostinho – PE 1966-1968. Mestrado em História, Universidade Federal em Pernambuco, 2018.
PEREIRA, Anthony. O Declínio das Ligas Camponesas e a Ascensão dos Sindicatos: as organizações de trabalhadores rurais em Pernambuco na Segunda República, 1955-1963. CLIO: Revista de Pesquisa Histórica, v. 26, n. 2, 2008.
SANTOS, Izabel Helena Acioli Siqueira dos. Relações, conflitos e repressão: a atuação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barreiros, Rio Formoso e Serinhaém frente às disputas políticas no campo (1960-1966). Mestrado em História, Universidade Federal de Pernambuco, 2016.
SILVA, Ana Karolina Pinto da. Possibilidades de
atuação dos sindicatos rurais na junta de conciliação
e julgamento de Nazaré da Mata: Entre o conflito e defesa da paz no campo em 1964. Cadernos de
História UFPE, v. 10, n. 10, 2014.
SILVA, Alexandre Júnior de Lima e. Sindicato de trabalhadores rurais em Palmares frente à repressão. Mestrado em História, Universidade Federal de Pernambuco, 2012.
VILELA, M. A. F; BARROS, A. V. (2020). Trabalhadores rurais e o “credo vermelho”: Experiências
protestantes na Liga Camponesa em Goiana, Pernambuco. Revista Mundos do Trabalho, v. 12, 2020.
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST)
ROSA, Marcelo C. Biografias e Movimentos por Lutas na Terra em Pernambuco. Tempo Social, vol.21, no.1, São Paulo, 2009.
SANTOS, Marileuda Fernandes do Nascimento; DA SILVA, Anne Rocha; MATEUS, Kergilêda Ambrosio de Oliveira. Percursos Históricos da luta pela terra no Brasil: os conflitos no campo e a formação do
MST. Seminário Gepráxis, Vitória da Conquista – Bahia – Brasil, v. 6, n. 6, p. 2744-2756, 2017.
Questão Fundiárias
BARROS, Ilena Felipe. Nas trilhas do crédito fundiário: a luta pela sobrevivência entre a terra e o
assalariamento na agroindústria canavieira de Pernambuco. Doutorado em Serviço Social, Universidade Federal de Pernambuco, 2014.
BARROS, Júlio César Pessoa de. Conflitos e negociações no campo durante o primeiro governo
de Miguel Arraes em Pernambuco (1963-1964). Mestrado em História, Universidade Federal de
Pernambuco, 2013.
E SILVA, Maria das Graças; MONICA, Grossi; SILVA, Rebeca GOMES de Oliveira; DOS PRAZERES, Amanda Rayza Britto; DE MELO, Vera Lúcia Domingues. Questão ambiental, lutas sociais e agroecologia: luta por território no Engenho Ilha – Pernambuco. v. 16 n. 1 (2018): Anais do XVI Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social.
FILHO, José Marcelo Marques Ferreira. Arquitetura espacial da plantation açucareira no Nordeste do Brasil (Pernambuco, Século XX). Doutorado em História, Universidade Federal de Pernambuco, 2016.
LEMOS, Hélio de Vasconcelos; DE JESUS, Paulo. Desenvolvimento industrial e conflitos de terra:
desafios do desenvolvimento local frente à questão fundiária entre a comunidade de Massangana e o Complexo Industrial de Suape-PE. GeoTextos, vol. 11, n. 2, dezembro 2015. H. Lemos, P. Jesus. 177-194.
OLIVEIRA, Emanuel Lopes de Souza. As Múltiplas faces dos conflitos de terra: escravos, lavradores de roça e senhores no final da escravidão na Mata Norte de Pernambuco. ANPUH – XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Fortaleza, 2009.
RODRIGUES, Mônica dos Santos; ROLLO, Paula de Andrade. Estudo de caso: o mercado de terras rurais na região da zona da mata de Pernambuco, Brasil. In: NU. CEPAL. División de Desarrollo Productivo y Empresarial, n. 92 2 v., 2000-11.
SÁ, Érica Naiane Vieira Aquino de. Terra, Água e Trabalho: A Reforma Agrária e os Conflitos no
Campo, no Brasil, entre 2006 e 2016. Monografia em Direito, Faculdade Evangélica de Goianésia, 2018.
SILVA, Vivian Damasceno. Conflitos socioambientais da atividade turística em unidades de conservação: a Área de Proteção Ambiental de Guadalupe - Pernambuco. Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal de Pernambuco, 2011.
O dossíê ''Movimento Estudantil em Pernambuco'' tem o objetivo de refletir sobre o papel da juventude estudantil, suas entidades, formas de luta, relação com o Estado e correntes ideopolíticas ao longo da História, mas também contribuir para a reflexão sobre os desafios que a conjuntura atual coloca para os estudantes.
Movimento estudantil em Pernambuco, das origens à ditadura de 1964-1985
Monografias, Dissertações e Teses
CARVALHO, Maria José de. Mulheres na Faculdade de Direito do Recife (1960-1973): para não dizer que não falei das flores. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017.
FERREIRA, Maicon Mauricio Vasconcelos. Nos interstícios do golpe : resistência da juventude em
Pernambuco à ditadura civil-militar brasileira (1964-1972). Programa de Pós-Graduação em História,
Universidade Federal de Pernambuco. 2014.
LACERDA, Diego Andrev de Aguiar. A atuação dos comunistas no movimento estudantil de
Pernambuco: da Frente do Recife ao AI-5 (1956- 1968). Programa de Pós-Graduação em História,
Universidade Federal de Pernambuco. 2017.
LUCENA, Fabiola Alves de. A comunicação clandestina no movimento estudantil em Recife durante a
ditadura militar. Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Pernambuco. 2016.
SILVA, Eraldo da. A Pastoral da Juventude na Diocese de Pesqueira: memórias e práticas sociais (1967-1985). 2005. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005.
SILVA, Otávio Luiz Machado. Formação profissional, ensino superior e a construção da profissão do
engenheiro pelos movimentos estudantis de engenharia: a experiência a partir da Escola de
Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco (1958-1975). 2008. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.
SILVA, Simone Tenório Rocha e. Em Busca da utopia as manifestações estudantis em Pernambuco (1964 1968). Dissertação (Mestrado). Programa de Pós- Graduação em História, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002.
SOARES, Thiago Nunes. "Um clima de agitação criado por alunos esquerdistas”: vigilância, militância
política e lutas pelas liberdades democráticas na UFPE (1973-1985). Doutorado em História,
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2020.
Movimento Estudantil em Pernambuco da redemocratização aos dias atuais
ALBUQUERQUE, Juliene Tenório de. O movimento juvenil no Recife : o fórum das juventudes Recife/PE com a palavra. 2008. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Universidade Federal de Pernambuco.
RODRIGUES, Rebeca Pereira. "Bora ocupar" - Um estudo da trajetória política e de caráter pedagógico das ocupações de escolas no Recife em 2016. Monografia (Graduação). Curso de História da UFPE, 2019.
TENÓRIO, Débora Maria da Silva Adriano.“Ocupa tua escola, mostra que tu és intenso”: Uma análise do problema da arte na Reforma do Ensino Médio, abordado nas ocupações secundaristas em Recife, no ano de 2016. Monografia (Graduação). Curso de Serviço Social, UFPE, 2018.
Movimento Estudantil brasileiro: abordagens teóricas, memória e história
ANDRADE, Marcio Oliveira de. A atuação do grêmio estudantil na gestão democrática. Mestrado
Profissional em Educação Instituição de Ensino: Universidade de Pernambuco, 2019.
ARAÚJO, Raquel Dias. O movimento estudantil nos tempos da barbárie: a luta dos estudantes da UECE em defesa da universidade pública. 2006. 286f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Fortaleza-CE, 2006.
BRUEL, A. L. O. As reformas do ensino médio no estado do Paraná (1998-2002): relações entre o
PROEM e os projetos de protagonismo juvenil. 2003. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2003.
CAMASMIE, Mariana Junqueira. O Movimento de Ocupação das escolas e as novas formas de fruição da juventude escolarizada nas classes populares do Brasil. Dissertação em Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2018.
CAVALARI, R.M.F. Os Limites do Movimento Estudantil (1964-1980). Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 1987.
COSTA, Carla de Sant’Ana Brandão. Movimento estudantil contemporâneo : uma análise
compreensiva das suas formas de atuação. 2004. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004.
COSTA, Eliezer Raimundo de Sousa. Os grêmios escolares e os jornais estudantis: práticas educativas na Era Vargas (1930 – 1945). Tese apresentada ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação – Conhecimento e Inclusão Social – da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte: Faculdade de Educação da UFMG, 2016.
DUARTE, Marcilon. Resistência do Movimento Estudantil ao contrato de gestão pelas organizações
sociais na educação do estado de Goiás. 2018. 84 f., il. Dissertação (Mestrado em Educação)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.
FERREIRA, S. C. Grêmio estudantil: um disparador de subjetividades coletivas emancipatórias. Tese (Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
GROPPO, L. A. Uma onda mundial de revoltas: movimentos estudantis nos anos 1960. Tese
(Doutorado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2001. 2 v. GUIMARÃES, José Newton Rangel. A União Nacional dos Estudantes depois da Ditadura Militar: o movimento estudantil contemporâneo e a influência do partido comunista do Brasil. Monografia apresentada ao curso de Graduação em História, Universidade Federal de Uberlândia, 2006. Acesso:
MENDONÇA, Érika de Sousa. Práticas discursivas sobre participação política juvenil: entre os prazeres, orgulho e sacrifícios. 2008. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.
NASCIMENTO, Clara Martins do. Assistência estudantil e contra reforma universitária no anos 2000. Recife, 2013. 158 f. Dissertação (mestrado) - UFPE, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-graduação em Serviço Social, 2013.
PAULA, Gil César Costa de. A Atuação da União Nacional dos Estudantes - UNE: Do Inconformismo à
Submissão ao Estado (1960 a 2009). Tese apresentada ao programa de pós-graduação em Educação, Universidade Federal de Goiás, 2009.
PEIXOTO, Taina Christine da Conceição. A Formação Política nos Encontros Nacionais de Estudantes de Pedagogia (ENEPe). Dissertação (mestrado profissional) Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares, Instituição de Ensino: Universidade de Pernambuco, Petrolina, 2018.
SANTANA, Flávia de Angelis. Atuação política do movimento estudantil no Brasil: 1964 a 1984.
Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em História Social. São Paulo, Universidade de São Paulo, 2007.
SANTANA, Flavia de Angelis. Movimento estudantil e ensino superior no Brasil: a reforma universitária no centro da luta política estudantil nos anos 60. Tese (Doutorado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
SANTOS, Jordana de Souza. O movimento estudantil na “democratização”: crise da era Collor e
neoliberalismo. Tese (Doutorado em Ciências Sociais), UNESP, 2018. Acesso:
SCHMIDT, João Pedro. Juventude e política nos anos 1990: um estudo de socialização política no Brasil. Tese (Doutorado em Sociologia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, 2000.
SILVA, Andréa Alice Rodrigues. Movimento estudantil de serviço social e partido político na
contemporaneidade: contradições no período do governo Lula (2007/2010). 2011. Dissertação
(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Serviço Social.
O dossiê ''Movimento Sindical em Pernambuco'' é dedicado ao tema Sindicalismo em Pernambuco
O peso da questão agrária no Nordeste também trouxe consequências para o processo de industrialização e levou a uma peculiar importância do sindicalismo rural. Emerge correntes políticas na origem e no desenvolvimento do sindicalismo nas usinas, a influência da luta por reforma agrária no sindicalismo, a relação dos sindicatos com os governos, as práticas assistenciais e de comunicação sindical, os ciclos grevistas, os impactos do chamado novo sindicalismo e as lutas operárias em espaços semi-rurais.
Mulheres e Sindicalismo
Monografias, Dissertações e Teses
Monografias, Dissertações e Teses BORDALO, Caroline Araújo. Os caminhos da política: o
sindicalismo rural e os movimentos de mulheres trabalhadoras rurais de Pernambuco. Tese
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro, 2011.
MELO, Agnes Santos. Das sombras às formas : a participação da mulher no movimento sindical dos
trabalhadores e trabalhadoras rurais (MSTTR) no estado de Sergipe. Dissertação (Mestrado), Sociologia, Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2009.
PERES, Anna Paula Lemos Santos. Desigualdades, trabalho e gênero: Transgressões nas relações
laborais no contexto do movimento sindical de trabalhadores do setor metalúrgico. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social. Universidade Estadual de
Montes Claros, Montes Claros, Minas Gerais, 2015.
SILVA, Camilla de Almeida. “O que a gente quer pra um, a gente quer pro outro”: uma análise sobre as questões de gênero e a agenda política dos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais na fruticultura irrigada do polo Petrolina/PE - Juazeiro/BA. Dissertação (Mestrado). Programa de
Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2016.
Sindicalismo Rural em Pernambuco
ABREU E LIMA, Maria do Socorro. Revisitando o campo: Lutas, organização, contradições - Pernambuco -1962-1987. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003.
BARROS, Ilena Felipe. Nas trilhas do crédito fundiário: a luta pela sobrevivência entre a terra e o
assalariamento na agroindústria canavieira de Pernambuco. Tese (Doutorado). Programa de Pós- Graduação em Serviço Social. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014.
SANTANA, Cleildes Marques de. Em busca da "terra molhada". Ações coletivas de resistência e
organização do movimento sindical em Itaparica. Dissertação (Mestrado). Curso de Mestrado em
Sociologia Rural, Centro de Humanidades, Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande, 1999.
SANTOS, Izabel Helena Acioli Siqueira dos. Relações, conflitos e repressão: a atuação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barreiros, Rio Formoso e Sirinhaém frente às disputas políticas no campo (1960-1966). Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016.
SILVA, Alexandre Junior de Lima e. Sindicato de trabalhadores rurais em Palmares frente à repressão. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em História. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012.
SILVA, Alexandre Junior de Lima e. Sindicato de trabalhadores rurais em Palmares frente à repressão. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em História. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012.
SOARES, Luiz Felipe. Unidade versus pluralidade: a construção política da representação sindical da
categoria agricultor familiar em Pernambuco.Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação
em Sociologia. Universidade Federal de Pernambuco,Recife, 2017.
Sindicalismo Urbano em Pernambuco
ALEXSANDRA, Santos; OLIVEIRA, Ramon de. O papel da Força Sindical (FS) na esfera da qualificação
profissional no estado de Pernambuco. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003.
ASSIS, Erica da Silva. Impactos da reforma trabalhista no comércio em Caruaru-PE. Caruaru. Monografia (Graduação). Curso de Graduação em Administração, Núcleo de Gestão. Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2019.
BONANI, Clélia Aparecida. Relação entre o movimento sindical e conquista de direitos: o caso dos técnico-administrativos da UFPE. Dissertação (Mestrado).Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016.
CABRAL, Guilherme Alberto Eulálio. Uma tentativa de implantação de uma cooperativa autogerida:: o desafio da participação na Cooperativa dos Trabalhadores Têxteis de Confecção e Vestuário de
Pernambuco LTDA. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004.
COSTA, Rafaela Ribeiro Saraiva da. As estratégias de resistência dos operadores de teleatendimento em Pernambuco: um fazer-se enquanto classe. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019.
FERREIRA, Rafael Leite. O “novo sindicalismo” urbano em Pernambuco (1979-1984): entre mudanças e permanências. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em História. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012.
FREITAS, Guilherme. “Respeitem a Lei, Srs.Banqueiros!”: experiências da luta sindical dos bancários de Pernambuco (1931-1939). Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em História.
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017.
MOURA, Laudyslaine Natali Silvestre de. A criação da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco (ADUFEPE) no contexto da abertura política (1975-1984). Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2018.
OLIVEIRA, Layanny Carlos de. Sindicalismo Brasileiro: Análise da Legalidade da Cobrança de Contribuição Voluntária pelo Sindicato dos Atletas Profissionais em face de um clube pernambucano de futebol. Monografia (Graduação). Graduação em Direito, Faculdade Damas da Instrução Cristã, Recife, 2017.
SANTOS, Alexsandra Ramos dos; OLIVEIRA, Ramon de. O papel da força sindical (FS) na esfera da
qualificação profissional no Estado de Pernambuco. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003.
SILVA, Max Rodolfo Roque da. As lutas dos professores da rede pública estadual em Pernambuco: o novo sindicalismo e a formação do SINTEPE. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós- Graduação em Educação. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014.
SOUZA, Cícero Albuquerque de. Retratos de Professores: Associativismo Docente em Pernambuco 1979/1982. Dissertação (Mestrado), Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2016.
VIEIRA, Josenilton Nunes. Professores em movimento: a luta pela definição do estatuto e plano de carreira do magistério em Petrolina - PE. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002.
Sindicalismo Rural e Urbano (Internacional e Nacional)
ANTUNES, Ludmila Rodrigues. Reestruturação produtiva e sistema bancário: movimento sindical
bancário brasileiro nos anos 90. Tese (Doutorado).
MARCELINO, Paula Regina Pereira. Terceirização e Ação Sindical: A singularidade da reestruturação do capital no Brasil. Tese (Doutorado). Programa de Pós- Graduação em Ciências Sociais. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.
OLIVEIRA, Reysla da Conceição Rabelo. Movimento sindical brasileiro: uma análise de seu nascimento a sua posterior cooptação pelo governo Vargas.Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Faculdade de Direito (Bacharelado em Direito), Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2016.
SANTOS, Carlos Figueiredo dos. Movimentos sindicais e a terceirização: a importância (e a necessidade) da defesa dos direitos dos trabalhadores terceirizados.
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Faculdade de Direito (Bacharelado em Direito), Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2015.
O dossiê ''Lutas por Moradia em Pernambuco'' dedica-se aos movimentos de luta por moradia. Procuramos selecionar obras que tenham ênfase na ação dos movimentos sociais, evitando assim aquelas que tratam da questão da habitação de forma mais centrada no Estado e nas políticas habitacionais.
Monografias, Dissertações e Teses
CARVALHO-SILVA, Hamilton Harley de. A dimensão educativa da luta de mulheres por moradia no
Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
bairro popular da cidade do Recife. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em Economia Doméstica). Departamento de Ciências Domésticas, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019.
Institucionalização e o Confronto Político. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional). Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.
Dissertação (Mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste). Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010.
1945. Dissertação (Mestrado em História). Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013.
possíveis para a população removida por intervenções de melhoria urbana do Prezeis).
Dissertação (Mestrado em Geografia). Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006.
Desenvolvimento Urbano). Centro de Artes e Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco,
Recife, 2015.
pela moradia urbana no Alto José Bonifácio. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em
Direito). Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017.
(Doutorado em Sociologia). Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de
Pernambuco, Recife, 2009.
implantação do Conjunto Habitacional Nossa Prata, Paulista, região metropolitana do Recife-PE. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia em Geografia) - Departamento Acadêmico de Ambiente, Saúde e Segurança, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Recife, 2018.
movimento dos trabalhadores sem-teto na região metropolitana do Recife. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano). Centro de Artes e Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013.
conquista da moradia popular nas cidades de Recife e Jaboatão dos Guararapes-PE. Tese (Doutorado em Geografia). Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017.
posseiros de Jardim Penedo de Baixo para a construção da Cidade da Copa em São Lourenço da
Mata – PE. Tese (Doutorado em Antropologia). Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019.
Produções sobre o Movimento Estudantil em Pernambuco
Movimento estudantil em Pernambuco, das origens à ditadura de 1964-1985
CÉSAR, Ana Maria. A faculdade sitiada: a greve dos estudantes de direito do Recife, em 1961, que
envolveu o Exército e a Presidência da República. Recife: Cepe, 2009.
PONTES, Paulo. Memórias da Resistência na Ditadura e Depois - Recife, Natal, Salvador [capítulo
disponível]. Recife, 2018.
SANTOS, Evson Malaquias de Moraes. A primeira greve estudantil da UFPE, 9 a 19 de setembro de 1947: da tutela patriarcal à construção ambígua de sua autonomia. Recife: EDUFPE, 2010.
SANTOS, Evson Malaquias de Moraes. Cajá está sendo torturado e você vai à aula?. Recife: EDUFPE, 2020.
Movimento Estudantil em Pernambuco da redemocratização aos dias atuais
CARVALHO, Soraia de. "Bora Ocupar": um balanço das ocupações de escola em Recife. In: CARVALHO, Soraia de (org). Contrarreformas na Educação e lutas estudantis. Curitiba: CRV, 2020.
SILVA, Maria Katarina Bezerra Cruz da. Relato de Experiência do Documentário “Bora Ocupar”. In:
CARVALHO, Soraia de (org). Contrarreformas na Educação e lutas estudantis. Curitiba: CRV, 2020.
Movimento Estudantil brasileiro: abordagens teóricas, memória e história
ARAÚJO, Maria Paula Nascimento. Memórias Estudantis, 1937-2007: da fundação da UNE aos nossos dias. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Fundação Roberto Marinho, 2007.
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA USP. O controle ideológico na USP (1964-1978). São Paulo, 2004.
CAMPOS, A.M.; MEDEIROS J.; RIBEIRO, M.M. Escolas de Luta. São Paulo: Veneta, 2016. Disponível no acervo da Biblioteca do CCSA da UFPE.
CARRANO, Paulo Cesar Rodrigues. Jovens e participação política. In: SPÓSITO, M. P. (Coord.).
Juventude e Escolarização (1980-1998). Brasília: Mec/Inep/Comped, 2002. Série Estudo do Conhecimento.
CARVALHO, Soraia de (Org.). Contrarreformas na Educação e lutas estudantis. Curitiba : CRV, 2020.
CINTRA, André e MARQUES, Raisa. Livro: UBES - Uma rebeldia consequente. Projeto Memória do Movimento Estudantil, 2009.
COSTA, Adriana Alves Fernandes; GROPPO, Luís Antonio. (Orgs.). O Movimento de Ocupações Estudantis no Brasil. São Carlos: Pedro & João. Editores, 2018.
FÁVERO, Maria de Lourdes de. A UNE em tempos de autoritarismo. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994.
MACHADO, Otávio Luiz. Movimentos Estudantis, Formação Profissional e Construção de um Projeto
de País: A Experiência da Engenharia na UFPE (1958-1975). Frutal-MG: Editora Prospectiva.
MACIEL, MARCO. Movimento Estudantil e Reforma Universitária. Brasília: Ministério da Educação, 1985.
MENDES JUNIOR, A. Movimento estudantil no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982.
PAIVA, Gabriel de Abreu Gonçalves de. A UNE e os partidos políticos no Governo Lula (2003-2010).
Cascavel, PR: UNIOESTE-2011.
POERNER, Artur José. O poder jovem : história da participação política dos estudantes desde o Brasil-Colônia até o governo Lula. 5 ed. ilustrada, rev.,ampl. e atual. - Rio de Janeiro: Booklink, 2004.
SILVA, Letícia Gabrielle Lima da Costa et al. A Política da direção da União Nacional dos estudantes e União Brasileira de Estudantes Secundaristas de 2014 a 2019. In: CARVALHO, Soraia de (org). Contrarreformas na Educação e lutas estudantis. Curitiba: CRV, 2020.
SOUZA, Osvaldo. Juventude Proletária: entre a classe e a categoria social. In: CARVALHO, Soraia de (org).Contrarreformas na Educação e lutas estudantis. Curitiba: CRV, 2020.
Produções sobre o Movimento Sindical em Pernambuco
BOITO JUNIOR, Armando. O sindicalismo brasileiro dos anos 80. Rio de Janeiro: Paz e Terra: 1991.
Comissão Estadual da Memória e da Verdade Dom Helder Câmara - Relatório Final Volume 1 e 2. Governo do Estado de Pernambuco/Secretaria da Casa Civil.
Comissão Nacional da Memória, Verdade e Justiça da Central Única dos Trabalhadores (CUT). O Golpe Militar contra os Trabalhadores e as Trabalhadoras. Sindicalistas mortos e desaparecidos durante a ditadura militar e a transição civil no Brasil: 1964-1988. Central Única dos Trabalhadores (CUT) -
Comissão Nacional da Memória, Justiça e Verdade. São Paulo: CUT, 2015.
ERICKSON, K. Paul. Sindicalismo no processo político no Brasil. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1979.
GOETTERT, Jones Dari. Introdução à História do Movimento Sindical. Brasília, Distrito Federal:
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação,014.
OLIVEIRA, Tiago Bernardon de (Org.). Trabalho e trabalhadores no Nordeste: análises e perspectivas
de pesquisas históricas em Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Paraíba: EDUEPB, 2015.
Produções sobre a Luta por Moradia em Pernambuco
BOULOS, Guilherme. Por que Ocupamos? Uma Introdução à Luta dos Sem-Teto. Scortecci Editora
Política. ISBN 978-85-366-3610-8. 2a edição - 2014.
CUMARÚ, Francisco; BARBOSA, Benedito Barbosa. Movimentos Sociais e Habitação. Salvador: UFBA,
Escola de Administração; Superintendência de Educação a Distância, 2019.
DAVIS, Mike. Planeta Favela. São Paulo: Boitempo, 2006.
FASE (Org.). A Luta Popular Urbana por seus Protagonistas: direito à cidade, direitos das cidades.
Rio de Janeiro: Editora Fase, apoio Fundação Rosa Luxemburgo, 2018.
GOHN, Maria da Glória. Movimentos Sociais e Luta pela Moradia. São Paulo: Edições Loyola, 1991.
LEITE, Socorro de Paula Barbosa Rodrigues. Participação Popular e Acesso à Moradia. As escolhas
possíveis para a população removida por intervenções de melhoria urbana do PREZEIS. Recife:
EDUFPE, 2007.
LUDERMIR, Raquel; COELHO, Ronaldo (autores). Terra e Moradia. Conflitos fundiários urbanos em
Pernambuco. Habitat para a Humanidade Brasil, 2016-2018.
MARICATO, Ermínia (org.). A produc a o capitalista da casa (e da cidade) no Brasil industrial. 2. ed. São Paulo, SP: Alfa Omega, 1979.
MARICATO, Ermínia. Política habitacional no regime militar. Petrópolis: Ed. Vozes, 1987.
MARICATO, Ermínia; PAMPLONA, Telmo; MAUTNER,Yvonne. Cenários do Contraste. Uma incursão no interior da habitação popular paulistana. 1999.
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do José Guilherme Sieber Padilla Pandolfi
Orientador: Prof. Dr. José Marcelo Marques Ferreira Filho
Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo analisar a atuação do Estado brasileiro, por meio da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), no planejamento e na construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica (PE/BA), nas décadas de 1970 e 1980. Ao longo da ditadura empresarial-militar, o Estado promoveu a construção de diversas megabarragens em todo o país, estimulando a oferta de energia elétrica para subsidiar seu projeto de desenvolvimento. Essas construções foram empreendidas em detrimento da população e do ambiente locais. Em Itaparica, mais de 40 mil pessoas foram atingidas pela inundação do lago, entre trabalhadores urbanos e rurais e populações indígenas. Orientado pela História Ambiental, o trabalho busca examinar, de um lado, a concepção de natureza que animou o projeto desenvolvimentista do Estado, sobretudo no que se refere à centralidade da gestão das águas e da energia elétrica. De outro, pretende identificar alguns dos impactos socioambientais produzidos pelo empreendimento hidrelétrico. Para realizar a pesquisa, amparamo-nos no acervo documental disponível no Fundo Petrolândia do Núcleo de Documentação sobre os Movimentos Sociais de Pernambuco Dênis Bernardes (NUDOC/UFPE), sobretudo em relatórios ambientais produzidos pela Chesf e, em menor medida, em documentos produzidos pelo movimento de trabalhadores. Com a análise dessas fontes, concluímos que o Estado brasileiro desconsiderou o ambiente e as populações locais em seu projeto de desenvolvimento. Além disso, a barragem provocou impactos socioambientais danosos como expulsão de milhares de suas terras, poluição, alagamento de terras férteis, diminuição da população de peixes e epidemias.
Trabalho de dissertação: Pós-graduação em História da Maria Gabriela Vieira de Souza
Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Bartira Ferraz Barbosa.
Coorientador (a): Prof.ª Dr.ª Maria do Socorro Abreu e Lima.
Resumo:
Apresenta-se, nesta dissertação, a tentativa de resgatar o processo de conscientização e visão alternativa da sociedade empreendida por uma organização católica fundada num período inóspito para os movimentos sociais no Brasil. Forja-se um panorama da difusão de temas que buscavam politizar o cotidiano dos camponeses à luz do evangelho no catolicismo progressista. A iniciativa deste setor da Igreja Católica está vinculada às mudanças que a instituição passava até a formação do Concílio Vaticano II no debate internacional, assim como no contexto nacional, onde lutas sociais cresciam no país e muitos padres e católicos desenvolveram trabalhos relacionados à Educação Popular. A ACR surge no momento de interrupção das atividades dos movimentos sociais na democracia e de renovação da renovação da Igreja frente a uma abordagem concreta da Doutrina social nesta. O conjunto documental debruçado, utilizando-se inclusive de depoimentos consultados, gera um entendimento da atuação da organização que se dispôs a repensar as estruturas de poder na sociedade rural e a consolidação de uma fé desinteressada na questão social, para então convertê-la em catalisadora da transformação da realidade dos camponeses. As experiências destes sujeitos, a linguagem utilizada no veículo das informações difundidas e o levantamento de debates da exploração do homem do campo através ACR são alguns dos objetos deste estudo a partir da associação a uma compreensão histórica de grupos que se movimentavam num contexto de repressão política visando suas formas de resistência com os recursos disponíveis no momento.
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Felipe de Lima França
Orientador: Prof. Dr. Severino Vicente da Silva
Coorientador: Prof. Dr. José Marcelo Marques Ferreira Filho.
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Thawanny Victória Santos Costa
Orientador: Prof. Dr. José Marcelo Marques Ferreira Filho.
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Hugo José de Oliveira
Trabalho de dissertação: Pós-graduação em História do Pedro Henrique Pacheco da Silva
Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Maria do Socorro Abreu e Lima.
Ação Católica Rural: um compromisso libertador em Pernambuco (1965-1979)
Resumo:
Com o golpe civil-militar de 1964, o Brasil mergulhou em um extenso regime de exceção. As lutas políticas e sociais passaram a ser escassas. Pensar e agir em prol da organização e conscientização dos camponeses tornou-se algo raro e perigoso. A violência institucionalizada inibia efetivamente ações que contrariassem a ordem vigente. Contudo, em Pernambuco, uma forte tradição de lutas dos povos pobres do campo, atrelada a uma nova visão de Igreja, tornou possível a criação de um movimento que militou a favor e ao lado dos camponeses. A Ação Católica Rural, surgida em 1965 a partir da Arquidiocese de Olinda e Recife, atuava no meio rural com o objetivo de fazer desses homens e mulheres pobres do campo os sujeitos de sua própria história. Na presente dissertação, analisamos como se deu a criação do movimento, a construção dos seus objetivos, suas práticas de trabalho e a participação de algumas das suas principais lideranças, no período entre os anos de 1965 e 1979.
Trabalho de monografia: Alberes Fabrício Simões da Silva
Orientador: Prof. Dr. Igor Soares Amorim
Resumo:
A presente pesquisa analisa a preservação de fundos documentais da coleção do Núcleo de Documentação dos Movimentos Sociais Denis Bernardes da Universidade Federal de Pernambuco, que guarda documentos de movimentos sociais relativos ao período da ditadura militar brasileira. A partir de uma análise de diagnóstico, buscou-se contribuir com a preservação do acervo e com a memória dos movimentos sociais. O problema de pesquisa investiga como é feita a preservação dos documentos sobre o sindicalismo salvaguardados no núcleo de documentação. O objetivo geral foi investigar a preservação desses documentos, e os objetivos específicos foram: compreender o conceito de preservação em fundos documentais; reconhecer o Núcleo de Documentação dos Movimentos Sociais Denis Bernardes e suas necessidades em relação aos fundos Múcio Magalhães, Ação Católica Rural, Barragem de Itaparica-Petrolândia e Organização Revolucionária Marxista - Política Operária; realizar o diagnóstico desses fundos; e discutir sua importância. A pesquisa, de natureza exploratória, utilizou o método bibliográfico e documental, com análise de dados realizada por meio de uma ficha de diagnóstico elaborada para este fim. Como resultado, identificou-se que o conceito de preservação documental é amplo, contemplando conservação e restauro, e implica um processo de desaceleração da deterioração com planejamento e ações estratégicas. A história do Núcleo de Documentação dos Movimentos Sociais Denis Bernardes e de seus fundos foi relatada, bem como as necessidades estruturais e gerais de preservação, considerando segurança, infraestrutura, armazenamento, ventilação, iluminação e acessibilidade. O diagnóstico revelou que, embora haja uma preocupação com a preservação e digitalização, é necessário maior investimento e a formalização de uma política de preservação mais efetiva. Constatou-se, ainda, que o núcleo carece de melhores condições físicas e de infraestrutura para uma preservação adequada.