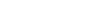Observatório | Covid-19
- UFPE/
- Especiais/
- Observatório | Covid-19/
- Destaques/
- Trabalho doméstico remunerado: contradições estruturantes e emergentes nas relações sociais no Brasil
 Publicador de contenidos Publicador de contenidos
Publicador de contenidos Publicador de contenidos
Trabalho doméstico remunerado: contradições estruturantes e emergentes nas relações sociais no Brasil
Este artigo analisa como o trabalho doméstico remunerado se inscreve no cerne das contradições sociais do país e como a luta das trabalhadoras domésticas e cada momento de conquista advindo desta luta movimentam reações que expressam os conflitos e antagonismos sociais inerentes a estas relações.
Imagem de Willfried Wende por Pixabay
TRABALHO DOMÉSTICO REMUNERADO: CONTRADIÇÕES ESTRUTURANTES E EMERGENTES NAS RELAÇÕES SOCIAIS NO BRASIL
TRABAJO DOMÉSTICO REMUNERADO: CONTRADICCIONES ESTRUCTURALES Y EMERGENTES
EN LAS RELACIONES SOCIALES EN BRASIL
PAID DOMESTIC WORK: STRUCTURAL AND EMERGING CONTRADICTIONS IN SOCIAL RELATIONS IN BRAZIL
Maria Betânia Ávila1 e Verônica Ferreira1
1SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia, Recife/PE, Brasil
RESUMO: Este artigo analisa o trabalho doméstico remunerado no Brasil buscando articular dimensões conjunturais e estruturais, a partir das determinações inscritas na divisão sexual e racial do trabalho, que o conformam como um campo de trabalho assalariado majoritariamente ocupado por mulheres e, dentre elas, por mulheres negras, e marcado por relações de exploração e dominação conformadas pela imbricação das relações sociais de gênero, raça e classe, que atravessam a formação social brasileira. Analisa-se como o trabalho doméstico remunerado se inscreve no cerne das contradições sociais do país e como a luta das trabalhadoras domésticas e cada momento de conquista advindo desta luta movimentam reações que expressam os conflitos e antagonismos sociais inerentes a estas relações.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Doméstico; Emprego Doméstico; Relações Sociais; Lutas Sociais.
RESUMEN: Este artículo analiza el trabajo doméstico remunerado en Brasil, buscando articular dimensiones coyunturales y estructurales, a partir de las determinaciones inscritas en la división sexual y racial del trabajo, que lo configuran como un campo de trabajo asalariado ocupado sobretodo por mujeres y, entre ellas, mujeres negras, y marcado por relaciones de explotación y dominación formadas por la superposición de relaciones sociales de género, raza y clase, que cruzan la formación social brasileña. Analiza cómo el trabajo doméstico remunerado está en el centro de las contradicciones sociales del país y cómo la lucha de las trabajadoras domésticas y cada momento de conquista
resultante de esta lucha mueve reacciones que expresan los conflictos y los antagonismos sociales inherentes a estas relaciones.
PALABRAS CLAVE: Trabajo doméstico; Empleo a domicilio; Relaciones sociales; Luchas sociales.
ABSTRACT: This article analyzes paid domestic work in Brazil, seeking to articulate conjunctural and structural dimensions based on the determinations inscribed in the sexual and racial division of labor, which make it up as a wage labor field mainly occupied by women and, among them, black women, and marked by relations of exploitation and domination shaped by the imbrication of social relations of gender, race and class that cross the Brazilian social formation. The article analyzes how paid domestic work is at the core of the country’s social contradictions as well as how the struggle of domestic workers and each moment of conquest resulting from this struggle trigger reactions that express the conflicts and social antagonisms inherent in these relationships.
KEYWORDS: Housework; Home Employment; Social relationships; Social struggles.
Introdução
Do ponto de vista conceitual que adotamos, o trabalho doméstico compreende duas
formas de relações de trabalho: o trabalho doméstico gratuito, feito na própria residência
dos sujeitos que o realizam, majoritariamente mulheres, e o trabalho doméstico remunerado,
realizado na residência alheia de patroas e patrões, e da mesma forma, majoritariamente
realizado por mulheres e, no caso brasileiro, por mulheres negras. Nesse texto,
desenvolveremos nossa análise tendo como foco o trabalho doméstico remunerado, pela
sua importância social e histórica neste país, e pela situação política e social de exploração,
dominação e apropriação que, sempre presentes em nossa realidade social, se desvelam de
maneira contundente no contexto atual da pandemia de Covid-19. Também se considera
que o emprego doméstico tem um peso extremamente importante no mercado de trabalho
para as mulheres, especialmente entre as mulheres negras. As empregadas domésticas
constituem uma das maiores categorias de trabalhadoras do país.
Um fato ocorrido no início da pandemia está pleno de significados sociais e históricos
que se não explicam plenamente a sua ocorrência, que podem dar elementos para uma
interpretação sobre as relações de trabalho doméstico no Brasil. Queremos nos referir ao
fato de a primeira vítima letal da Covid-19, no Brasil, ter sido uma trabalhadora doméstica,
empregada na casa de um casal que havia retornado naquele momento da Europa,
de uma viagem na qual haviam contraído o vírus, o que não os impediu de convocar a presença
da trabalhadora doméstica em sua casa, quando já se sabia desde antes que o contágio
se faz de pessoa a pessoa e, portanto, o confinamento social seria como é fundamental
para a prevenção individual e para evitar a catástrofe da contaminação coletiva.
Ainda queremos salientar que esse caso não é apenas um acontecimento a mais em uma
determinada conjuntura. Devemos, portanto, ultrapassar a sua aparência fenomenológica
de um fato isolado, desconectado das relações sociais que o determina. No Brasil,o novo
coronavírus (SARS-COV-2) foi trazido pela classe burguesa em suas viagens pelo mundo,
e agora assola as populações trabalhadoras, sobretudo as mais empobrecidas, na sua maioria
negra, e as populações indígenas. A desigualdade social abissal nesse país e a falta de políticas
públicas para restringir os efeitos e a expansão da pandemia evidenciam o descaso do
poder executivo no plano nacional pela saúde da população e, ao mesmo tempo, a condição
geral de desproteção social e precarização do trabalho e das condições de vida produzidas
pelo capitalismo neoliberal, exponenciadas no país desde o golpe de 2016, e a sequência de
medidas de desestruturação dos direitos que constituem não sua consequência, mas a realização
de seu propósito. Com a ascensão de Bolsonaro ao poder, esse projeto neoliberal passa
a implementar-se por meio de um governo com fortes elementos fascistas e autocráticos.
As atitudes deliberadas do presidente e outros membros do governo federal, transgressões
pessoais aos protocolos de segurança de saúde e declarações contra as evidências e recomendações
científicas sobre o problema, são fatores que levam ao aprofundamento da crise sanitária,
que, associada à crise política, conformam uma tragédia de proporções incalculáveis.
Para conectar o fato narrado anteriormente da primeira vítima da Covid-19, queremos
afirmar que é apenas na aparência que este se revela contingente. Todavia, em uma
análise crítica de seu significado social, o que se revela é que esta morte está profundamente
conectada com as relações de exploração e apropriação que conformam as relações
de trabalho doméstico e nos demandam uma breve retomada dos seus determinantes
históricos e sociais no país.
Trabalho doméstico na formação social brasileira
Para entender as relações e as dinâmicas que conformam o trabalho doméstico no
Brasil, é incontornável ter em conta as duas dimensões – remunerada e não remunerada –,
uma vez que elas estão tanto na constituição das relações sociais de raça, classe e gênero,
quanto na sua reprodução. Mais que isso, as relações de trabalho doméstico têm uma
importância singular para compreendermos a formação social brasileira e as heranças
coloniais – materiais, simbólicas e subjetivas – que estruturam a reprodução dessas relações
e se expressam no contexto atual.
No Brasil, o emprego doméstico é historicamente indissociável da escravidão e do
processo histórico de exploração, dominação e desapossamento da população negra pela
classe burguesa, constitutiva da elite política, formada pelos senhores patriarcais brancos.
Na busca da historicidade do trabalho doméstico remunerado, que conforma o que chamamos
emprego doméstico, vamos encontrar que essa relação foi tecida no fio da história de
uma sociedade fortemente marcada pela desigualdade. É a partir das relações sociais de
sexo/gênero, de raça e de classe que o trabalho doméstico se conforma como um campo de
trabalho assalariado no Brasil.
No período colonial, além de uma relação de profunda desigualdade e apropriação
das mulheres, ter em suas residências empregadas domésticas consistia em um elemento
de ostentação para marcar o poder de classe (Graham, 1992) e exibir o poder do senhor
patriarcal branco e da sua família. A própria arquitetura das residências das classes
média e burguesa no país aponta nesse último sentido mencionado. Em seu estudo, Lêda
Maria Souza (1991) localiza no espaço arquitetônico do quarto da empregada doméstica,
os vestígios ideológicos servis/escravocratas (Souza, 1991, p. 66) e, podemos acrescentar,
também suas marcas materiais. Mesmo que na realidade de hoje as trabalhadoras domésticas
remuneradas residam cada vez menos na casa das/os patroas/os, esse quarto localizado
nos fundos dessas residências e em geral insalubres e usados como depósito, sendo ou não
ocupado por uma trabalhadora, se mantém como parte do nosso “patrimônio” cultural racista
e de classe, que define o padrão e as formas das residências das classes abastadas do país.
Mesmo nas décadas mais recentes, marcadas pela redução no padrão de reprodução e rebaixamento
salarial nas classes médias, que se expressa na diminuição do tamanho das residências,
a dependência da empregada permanece como elemento de diferenciação de classe.
No contexto da pandemia de Covid-19, uma das expressões da persistência das relações
de exploração e dominação das trabalhadoras domésticas remuneradas foi a pressão
de empregadores(as) para manter a presença destas trabalhadoras em serviço no domicílios,
no período do confinamento social necessário à proteção contra o alto nível de
contágio do novo coronavírus. Esta pressão levou a que os governos estaduais do Pará
e Pernambuco e a prefeitura de Belém incluíssem as trabalhadoras domésticas remuneradas
no rol de serviços essenciais nos decretos de regulação das atividades econômicas
e relações de trabalho no período de quarentena, o que foi denunciado pelas organizações
de trabalhadoras de trabalhadoras e, em função dessa resistência, foi revertido1.
Na formação social brasileira, esse trabalho traz as marcas da servidão das mulheres
como aptas e destinadas a servir compulsoriamente ao outro, e aos outros, e as marcas da
escravidão a qual estiveram submetidas as mulheres negras no período colonial. No período
escravocrata, não cabia o termo emprego doméstico no caso das mulheres negras, pois
era na condição de escravas que elas faziam os trabalhos domésticos na casa das famílias dos senhores. Com o fim da escravidão, as mulheres negras passam a trabalhar como
empregadas domésticas (Graham, 1992; Saffioti, 1979). Até hoje, as mulheres negras constituem
a maioria dessa categoria. Mas além de serem majoritárias na categoria, há também
uma forte conotação de preconceito e discriminação racial que impregna ideologicamente
a representação do emprego doméstico no Brasil e que o associa a uma relação de
“servidão” e a um trabalho de mulheres negras. Neste sentido, a servidão ganha mais um
significado associado à escravidão, o que a nosso ver constitui uma particularidade brasileira.
O sentido de servidão próprio do trabalho doméstico associado à concepção de que as
mulheres estão intrinsecamente constituídas como seres disponíveis para servir aos outros
está consubstancialmente informado pelo sentido de servidão próprio da escravidão
da população negra, pois, como analisa Christiane Girard (1996), essa é uma relação de
trabalho fortemente marcada pela história da escravidão das mulheres negras no país.
O desvelar dessas heranças contribui para a desnaturalização das relações de servitude
no emprego doméstico, para explicar a presença majoritária das mulheres negras nesse
trabalho e para legitimar, historicamente, a importância para a luta antirracista no país
a luta das mulheres trabalhadoras, e das trabalhadoras domésticas em particular, e também
para reafirmar um posicionamento do feminismo como movimento anti-patriarcal
e antirracista e como dimensões incontornavelmente consubstanciais da sua práxis.
A magnitude do “serviço doméstico” assim como o sentido e as práticas que marcam
essa relação de trabalho, como afirmado anteriormente, remonta ao período colonial.
Caio Prado Júnior (1999), ao analisar a importância do trabalho servil na economia colonial,
distingue dois setores importantes com “caracteres e consequências distintas” na formação
da vida social brasileira, quais sejam, “o das atividades produtivas propriamente e as do serviço
doméstico” (Prado, 1999, p. 278). Ressalta o autor que, embora a importância econômica
do primeiro seja inegavelmente maior, o segundo não pode ser subestimado, por duas razões:
“não só ele é numericamente volumoso... como é grande a participação que tem na vida
social e a influência que sobre ela exerce. Nesse sentido, e excluído o elemento econômico,
ele ultrapassa mesmo largamente o papel do outro setor” (Prado, 1999, p. 278).
Essa importância se revela, por exemplo, de maneira central, no campo da política.
A resistência e a organização política das trabalhadoras se insurgem e, ao mesmo tempo,
revelam, o autoritarismo que marca as relações sociais no país e estruturam as relações
políticas. O emprego doméstico e o sujeito que o realiza, a empregada doméstica, converteram-
se, na sociedade brasileira, numa poderosa expressão, e um elemento de sustentação
do ponto de vista da ideologia dominante, do “mito fundador” (Chauí, 2000) que mascara
uma profunda desigualdade e uma particular expressão das relações de mando e obediência
e autoritarismo nas relações sociais tributárias da escravidão.
O trabalho doméstico remunerado se inscreve no cerne das contradições sociais do
país, seja do ponto de vista histórico, seja como parte da resistência do povo negro e da
classe trabalhadora, como na conjuntura atual, especialmente no contexto pós-conquista
dos direitos trabalhistas, dentre os quais têm centralidade a regulamentação e a restrição
da jornada de trabalho. A luta das trabalhadoras doméstica e cada momento de conquista
advindo desta luta movimentam reações que expressam o conflito de gênero, raça e classe,
e tornam assim evidentes as contradições e os antagonismos sociais inerentes a estas
relações, ao mesmo tempo em que desconstroem todas as tentativas da classe dominante
e branca de negar o racismo.
Até 1972, as pessoas que trabalhavam como empregadas domésticas no Brasil não
tinham qualquer direito trabalhista. Segundo o Sindicato dos Empregados Domésticos na
Área Metropolitana da Cidade do Recife (1989):
Foi há mais ou menos trinta anos que começamos a descobrir a importância do
nosso trabalho. Desde então, estamos nos organizando. Em 1972, tivemos uma
primeira vitória. Depois de muitas discussões, estudos, abaixo-assinados, saiu
a Lei n. 5.859, que garantiu três direitos importantes: o direito a ter carteira
assinada, férias de vinte dias por ano e pagamento do IAPAS, o que garantiu aposentadoria
e assistência médica. (Sindicato dos Empregados Domésticos na Área
Metropolitana da Cidade do Recife, 1989, p. 8)
De acordo com as informações da Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas,
em 2006 comemoraram-se 70 anos de organização dessa categoria, cujo marco inicial
é a fundação da primeira Associação de Trabalhadoras Domésticas, por Laudelina de
Campos Melo, em Santos, São Paulo, no ano de 1936.
Um avanço importante na cidadania dessa categoria se deu na Constituição de 1988,
quando novos direitos foram conquistados a partir da organização dessas trabalhadoras:
Em 1987 começa a ser elaborada a nova Constituição, pelos senadores e deputados
federais. Começamos então uma luta intensa para garantir uma legislação
que reconhecesse nossa profissão e que nos igualasse aos outros trabalhadores.
Fomos, neste período, uma das categorias profissionais mais presentes em Brasília...
entregamos nas mãos do presidente daquela Assembleia, o deputado Ulysses
Guimarães, um documento com nossas reivindicações. Elaboramos também
uma “emenda popular” e conseguimos para ela dez mil assinaturas de apoio.
Trabalhamos também em favor de outras emendas, como a da reforma agrária
e a dos direitos das mulheres. (Sindicato dos Empregados Domésticos na Área
Metropolitana da Cidade do Recife, 1989, s/p)
A partir da Constituição de 1988, além dos direitos adquiridos em 1972, as empregadas
domésticas adquiriram os seguintes direitos trabalhistas: salário mínimo como piso
salarial, décimo terceiro salário, folga semanal remunerada uma vez por semana (a lei
recomenda o domingo, mas permite acordo), férias anuais de trinta dias, licença-gestante,
aviso prévio proporcional e aposentadoria. Em 2015, no período de governo da presidenta
Dilma Rousseff, a categoria conquistou a regulamentação desses direitos trabalhistas em
um processo marcado por perdas e formas de precarização, já no bojo de um processo
político que revelava as fraturas no interior do governo e os interesses de forças políticas
que viriam a ser determinantes no golpe jurídico-institucional de 20162. Estes direitos,
que não foram totalmente instalados como garantia e mediação das relações de trabalho
no cotidiano, se tornaram mais vulneráveis como realidade concreta em suas vidas a partir
da Reforma Trabalhista, aprovada em 2018, sob os desígnios da ordem neoliberal e no período
do governo ilegítimo de Michel Temer, que assume a Presidência da República por
meio de um golpe jurídico-parlamentar.
Na prática, a falta de valor do trabalho doméstico, que ainda persiste como dado da
realidade social, configura-se como um problema político para a legitimação de sua luta
por direitos, o que leva também à emergência de muitas dificuldades para a organização política da categoria. Por isso, como dito anteriormente, é parte da própria ação política
a afirmação dos sujeitos como trabalhadoras e como parte da classe trabalhadora.
Nesse sentido, a afirmação das empregadas domésticas como trabalhadoras organizadas recoloca
desafios políticos para o movimento feminista e interpela a própria produção sociológica
no campo da análise sobre as relações de trabalho. Como afirma Rivane Arantes (2019).
Assim, como um campo de luta, o trabalho doméstico no Brasil evidencia tanto
a resistência das que estão em posição de inferioridade política, econômica e cultural,
mas especificamente as mulheres, majoritariamente negras e absolutamente
empobrecidas, pela reivindicação de democratização e transformação desses
espaços como localizações não naturais, quanto a avidez com que as elites do país
insistem em manter seu status quo e resistem a desnaturalizar os poderes que as
mantêm em condição de dominação sobre aquelas. (Arantes, 2019, p. 36)
Em que pese a importância do emprego doméstico como problemática social,
só recentemente, nos anos 1970, por meio dos estudos feministas sobre o trabalho doméstico
não mercantil e a divisão sexual do trabalho em que se insere, é que o estudo
do emprego doméstico ganhou maior investidura, formando-se, inclusive, os elementos
teórico-políticos para a crítica das interpretações patriarcais em que fora abordado até
então nas obras dos clássicos da formação social, econômica e política brasileira, exigindo
uma reinterpretação desta formação que tome sua centralidade como expressão da imbricação
das relações sociais de sexo, raça e classe nesse processo constitutivo (Farias, 1983;
Girard, 1996; Kofes, 1982; Saffioti, 1979).
Para ler o artigo na íntegra por favor clique aqui.